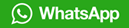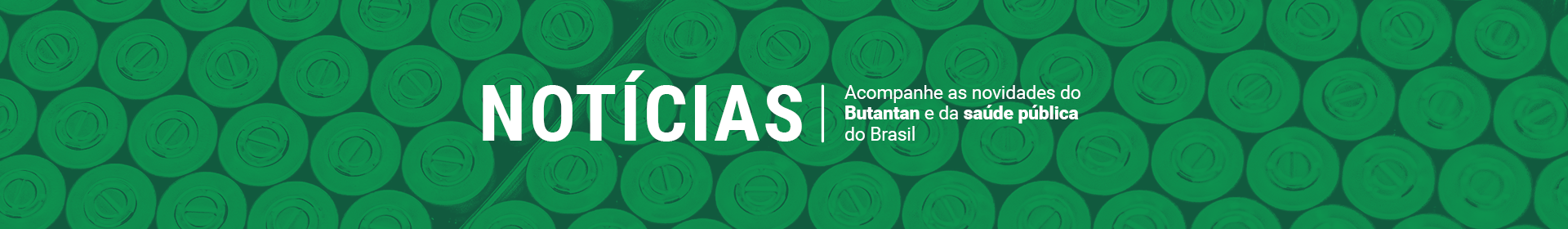

Reportagem: Natasha Pinelli
Fotos: Centro de Memória/Instituto Butantan e Comunicação Butantan
Conhecido por seus laboratórios e museus, o Butantan é também um oásis de biodiversidade em meio ao concreto paulistano. Dentre seus mais de 725 mil metros quadrados de área verde, um dos destaques é o Horto Oswaldo Cruz: um espaço centenário, criado originalmente para impulsionar o cultivo de plantas com potencial medicinal e apoiar as pesquisas desenvolvidas no início do século XX. Hoje, em uma conexão com seu passado científico, o horto oferece uma oportunidade de reaproximação com a natureza a todos os colaboradores e visitantes que passam pelas dependências do Instituto.
Na época em que foi inaugurado, em abril de 1917, o horto ocupava cerca de 150 mil metros quadrados e se estendia por toda a extensão em frente ao então prédio principal da instituição – o atual Edifício Vital Brazil, cartão-postal do Instituto. Segundo documentos oficiais, o Butantan foi escolhido para abrigar o espaço devido à sua boa reputação no âmbito da ciência. A ação consolidou a criação da chamada Seção de Botânica do Estado de São Paulo, que, além do horto, incluía um herbário, o pequeno bosque atrás do atual Museu Paulista, no bairro do Ipiranga, e a Estação Biológica de Alto da Serra, em Paranapiacaba, na região metropolitana de São Paulo. Apesar de incluir dependências distintas e distantes uma das outras, cabia ao Butantan a direção da nova seção estadual.

Antiga área ocupada pelo Horto Oswaldo Cruz, com o Edifício Vital Brazil ao fundo (Foto: Centro de Memória/Instituto Butantan)
“Os institutos de pesquisas sempre foram estratégicos para o estado. A criação do Horto Oswaldo Cruz representava uma tentativa de desenvolvimento da indústria farmacêutica nacional, que desde então dependia da importação de princípios ativos trazidos principalmente da Europa e da América do Norte”, explica a pesquisadora científica e diretora do Museu Biológico do Butantan Erika Hingst-Zaher.
Em um primeiro momento, o principal objetivo do espaço era cultivar a quina-do-peru (Cinchona calisaya), matéria-prima do medicamento então empregado no tratamento da malária, e que naquele período encontrava-se em falta em todo o mundo devido às demandas relacionadas à Segunda Guerra Mundial.

Área do Horto Oswaldo Cruz com suas grandes alamedas projetadas por Hoehne (Foto: Centro de Memória/Instituto Butantan)
Os trabalhos para a estruturação do horto foram iniciados um ano antes de sua fundação, em 1916, sob a coordenação do botânico e naturalista Frederico Carlos Hoehne (1882-1959). Ele já havia atuado como jardineiro chefe do Museu Nacional, no Rio de Janeiro, além de ter percorrido boa parte do país acompanhando as Expedições Científicas coordenadas pelo então capitão Cândido Rondon – posteriormente, também foi responsável pela construção do Jardim Botânico de São Paulo. De acordo com Erika Hingst-Zaher, o horto do Butantan foi a “semente” do atual complexo botânico estadual.
Inspirado principalmente pelas linhas curvas do Jardim Botânico de Dahlem, em Berlim, assim como pelas praças francesas, Hoehne investiu na criação de canteiros circundados por amplas alamedas. Apesar de se apoiar na estética europeia, o botânico era um grande entusiasta da flora brasileira e a priorizou no Horto Oswaldo Cruz: das 164 espécies plantadas, 80% eram nativas. Dentre elas, destacam-se a vassourinha (Miconia candolleana), nativa da região do Butantã, a tipuana (Tipuana tipu) e o jacarandá-mimoso (Jacaranda mimosifolia) – esses dois últimos foram bastante utilizados na arborização das ruas de São Paulo e se tornaram emblemáticos na paisagem da cidade.
Já em relação às espécies medicinais, que representavam cerca de 60% das plantas originalmente cultivadas na área, tinham relevância a erva-de-santa-maria (Chenopodium ambrosioides), cuja essência era utilizada para tratar ancilostomídeos – parasitas que se instalavam no intestino delgado e eram considerados uma questão de saúde pública na época; as diversas espécies de menta para a extração de óleos essenciais; as plantas da família das Cucurbitáceas, conhecidas por seus princípios purgativos; o carajuru (Arrabidaea chica), por sua ação antisséptica; as plantas do gênero Aristolochia, usadas para diversas finalidades, incluindo reumatismo e problemas estomacais; além da quina, que acabou não vingando por questões relacionadas ao clima.
A comunicação com o público também era uma parte importante do trabalho de Hoehne, que utilizava revistas especializadas da época para solicitar aos leitores que lhe enviassem sementes e mudas de plantas, além de oferecer serviços de identificação de espécies. Graças aos seus esforços, o herbário e o horto do Butantan reuniam uma enorme variedade de plantas originárias do estado de São Paulo, além de espécies raras do Norte do Brasil.

Interior da estufa dedicada ao cultivo de plantas medicinas (Foto: Centro de Memória/Instituto Butantan)
Com a intenção de contribuir com o estudo e a fabricação de medicamentos à base das plantas medicinais cultivadas no Horto Oswaldo Cruz, foi criado em 1919 o Instituto de Medicamentos Oficiais do Estado. A instituição ocupava um prédio próprio, demolido na década de 1960, e que era localizado onde hoje fica o Centro Bioindustrial do Butantan.
O espaço contava com maquinários, caldeiras e alambiques para a produção de remédios para o tratamento e profilaxia de doenças como malária, ancilostomose e sífilis, a fim de suprir as necessidades do Serviço Sanitário do Estado – instituição equivalente à atual Secretaria de Estado da Saúde. Além disso, o órgão buscava colaborar com a criação de uma farmacopeia nacional – guia que estabelece padrões rigorosos para garantir a qualidade, a segurança e a eficácia dos fármacos.
Apesar dos nobres objetivos, os insumos produzidos no Instituto de Medicamentos Oficiais do Estado nunca chegaram a substituir de fato as matérias-primas importadas. Outra questão foram os constantes problemas relacionados ao cultivo da quina, que acabaram levando a mudanças nas estratégias de atuação do próprio Horto Oswaldo Cruz e impactaram os objetivos da fábrica de medicamentos.
Por mais que fossem instituições governamentais distintas, mudanças na direção do Butantan levaram à suspensão das atividades do Instituto de Medicamentos em 1921. No ano seguinte, a direção da Seção de Botânica de São Paulo – que incluía o Horto Oswaldo Cruz – passou a ser desempenhada pelo Museu Paulista. Foi só em 1925 que o horto voltou a fazer parte da estrutura administrativa do Butantan, onde permanece desde então.

Trecho da Trilha da Figueira Branca, localizada no interior do Horto Oswaldo Cruz (Foto: Comunicação Butantan)
Ao longo de seus mais de 100 anos de história, o Horto Oswaldo Cruz mudou seu foco de atuação da pesquisa botânica ao fomento à educação ambiental. Contando atualmente com cerca de 20% de seu terreno original, o visual também mudou. “Houve um crescimento mais orgânico e desordenado da vegetação. Hoje, o que temos aqui é uma floresta secundária com algumas espécies exóticas que foram plantadas posteriormente”, pontua Érika Hingst-Zaher.
Aberto à visitação de terça a domingo, das 9h às 16h45, o horto abriga trilhas curtas autoguiadas, além de abrigar atividades como o “Sexta Animal”, em que os visitantes podem ver de perto alguns animais do Museu Biológico, além de a conversar com educadores sobre biodiversidade e conservação.
Outro destaque é a Trilha da Figueira Branca (Ficus Pohliana), que leva ao que hoje é o imponente descendente de um dos espécimes mais caros de Hoehne. Em trecho do Álbum da Seção de Botânica do Museu Paulista, publicado em 1925, o então responsável pelo Horto Oswaldo Cruz descreve um pouco do trabalho empenhado para salvar a “figueira original”, que valia por um “jardim aéreo” e que, após recuperada, “agradecia” a quem passava pelo local com sombra, vida e encanto.
Também é possível conferir a construção original da casa que serviu como estufa, permitindo o cultivo e o estudo de espécies oriundas de regiões mais quentes. Em um segundo momento, o espaço que hoje abriga o Núcleo Educativo do Museu Biológico foi transformada por Hoehne em um orquidário – essa família de plantas sempre foi uma das maiores paixões do botânico, que ganhou do pai sua primeira orquídea aos oito anos de idade, e descreveu mais de 400 espécies ao longo da vida. Na década de 1950, a estrutura também serviu à Seção de Parasitologia do Instituto Butantan, abrigando caramujos e mosquitos que contribuíram com estudos relacionados à esquistossomose e a arboviroses.

Mudas de palmito-juçara plantadas no Horto Oswaldo Cruz (Foto: Comunicação Butantan)
Seguindo o legado de seu criador, o Butantan tem empregado esforços para aumentar o número de plantas brasileiras cultivadas não apenas no Horto Oswaldo Cruz, mas em toda a sua extensa área verde. Exemplo dessas iniciativas foi a criação de um pequeno viveiro para a germinação e desenvolvimento de espécies nativas. Um dos frutos desse trabalho tão importante apareceu há pouco, quando os primeiros exemplares de palmito-juçara (Euterpe edulis), plantados há cerca de cinco anos no horto, enfim frutificaram.
Detalhe: as sementes que deram origem aos espécimes do Butantan foram retiradas – nada mais, nada menos – de fezes de jacus, uma vez que a espécie de ave se alimenta do fruto da palmeira nativa. “Fomos até a região do Itatiaia, no Rio de Janeiro, para coletar as fezes. Depois, trouxemos o material para o Instituto, lavamos e selecionamos as sementes que, posteriormente, foram plantadas”, recorda a diretora do Museu Biológico.
Além dessa, outras iniciativas de conservação têm sido implementadas pela equipe multidisciplinar responsável pela manutenção do Horto Oswaldo Cruz, como o monitoramento das populações de aves, borboletas, mamíferos e répteis que vivem por ali.
Referências:
Álbum da Seção de Botânica do Museu Paulista
Horto Oswaldo Cruz: histórico e projetos futuros
Raízes do Paisagismo no Butantan: o Horto Oswaldo Cruz e a contribuição de Frederico Carlos Hoehne